O CANTO LIVRE DE ANGOLA
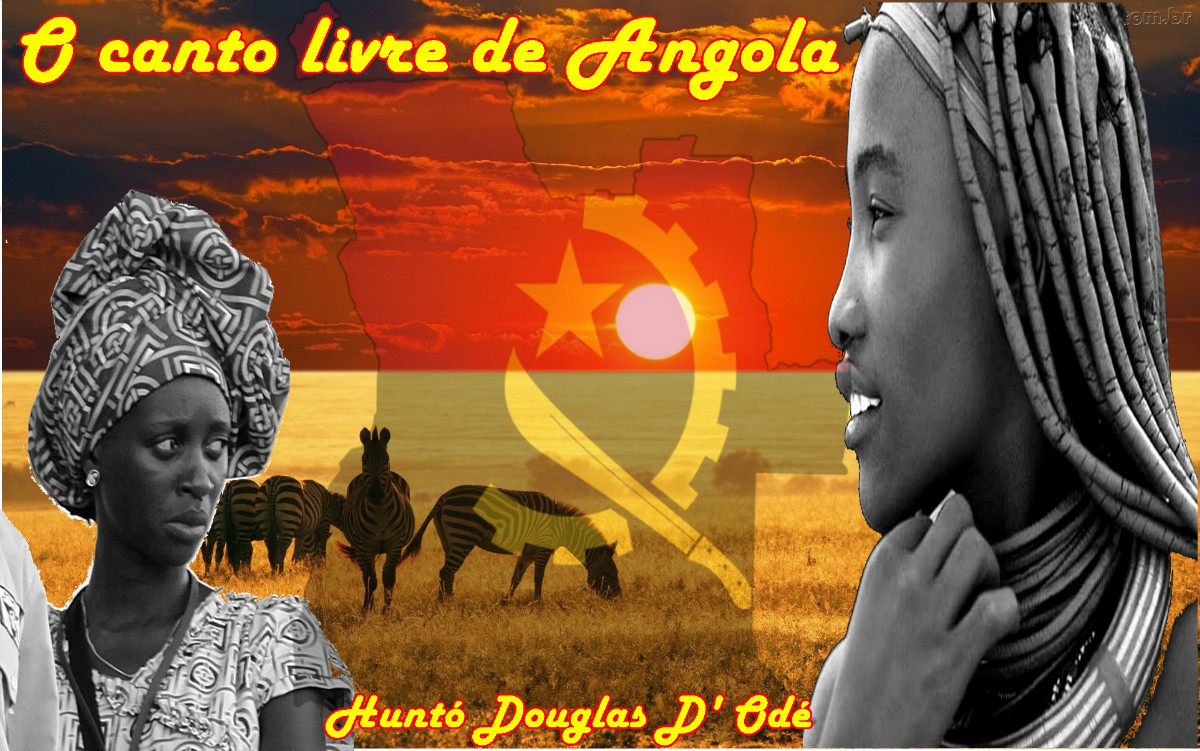
Capítulo I – O país
O continente africano é considerado como o berço da humanidade. O território do atual estado angolano, é habitado desde o Paleolítico Superior, como indica a presença dos numerosos vestígios desses povos recolectores dos quais se deve salientar a existência de numerosas pinturas rupestres que se espalham ao longo do território. Os seus descendentes, os povos Sam ou Khm, também conhecidos pela palavra bantu mukankala (escravo) foram empurrados pelos invasores posteriores, os bantu, para as areias do deserto do Namibe. Estes povos invasores, caçadores, provinham do norte, provavelmente da região onde hoje estão a Nigéria e Camarões. Em vagas sucessivas, os povos bantu começaram a alcançar alguma estabilização e a dominar novas técnicas como a metalurgia, a cerâmica e a agricultura, criando-se a partir de então as primeiras comunidades agrícolas. Esse processo de fixação vai até aos nossos dias, como é o caso do povo tchokwé ou quioco, que em pleno século XX se espalhou pelas terras dos povos designados como Ganguela.
A fase de estrutura ção dos grupos étnicos e a consequente formação de reinos, que teriam começado a ficar autônomos, decorreu, sobretudo até ao século XIII.
Por volta de 1400, surgiu o Reino do Congo. Mais tarde destacou-se deste, no sul, o Reino do Ndongo.
O mais poderoso foi o Reino do Congo, assim chamado por causa do povo Congo que vivia, então como agora, nas duas margens do curso final do Rio Congo. O Mani Congo, ou rei congo, tinha autoridade sobre a maior parte do norte da moderna Angola, governando através de chefes menores responsáveis pelas províncias.
O Reino do Ndongo era habitado pela etnia Kimbundu, e o seu rei tinha o título de Ngola. Daí a origem do nome do país. Outros reinos menores também se formaram nesse período. tipo o reino da Kimbingonga em 1236.
Os reinos surgem da efetivação de um poder centralizado num chefe de linhagem (Mani, palavra de origem bantu) que ganhou o respeito da comunidade com seu prestígio e poder econômico. Os reinos começam a conquistar autonomia provavelmente a partir do século XII.
Dom João II, desde que subira ao trono, mostrara ardente e decido empenho em levar a cabo dois grandiosos projetos, cuja realização, glorificando o seu reinado, alongaria extraordinariamente os domínios portugueses além-mar: A continuação das descobertas inauguradas sob os auspícios do Infante Dom Henrique e o prosseguimento das conquistas empreendidas por Dom Afonso V.
Em 1482, um ano depois de assumir o governo, Dom João II mandou Diogo Cão, seu escudeiro, prosseguir a descoberta para o Sul da África. Neste propósito, Diogo Cão partiu de Lisboa com duas caravelas, no final de 1482, acompanhado do notável cosmógrafo Martim Beheim [?], autor do afamado globo de Nuremberg. Diogo Cão descobriu a foz do Zaire.
A presença dos portugueses tornou-se uma constante desde o final do século XV (1482). Diogo Cão, comandante das caravelas foi bem acolhido pelo governador local do reino do Congo que estabeleceu relações comerciais regulares com os colonizadores. Mas o reino de Ngola manteve-se hostil. Entre 1605 e 1641 ocorreram grandes campanhas militares dos colonizadores com o objetivo de conquistar as terras do interior e implantar o domínio político do território.
A dominação não foi tarefa fácil. Os chefes Ngola resistiram e, graças sobretudo á liderança da rainha Njinga Mbandi (1581? -1663), que tinha grande habilidade política, o poder foi mantido com o reino dos Ngola por mais algumas décadas.
Também os reinos de Matamba e Kassange mantiveram a sua independência até o século XIX.
Em 1617, Manuel Cerveira Pereira deslocou-se ao litoral sul, subjulgou os sobas (reis) dos povos Mudombe e Hanha e fundou o reino de Benguela, onde, tal como em Luanda, passou a funcionar uma pequena administração colonial. O tráfico de escravos passou a ser o grande negócio, interessando aos portugueses e africanos, mas provocou um esvaziamento da mão-de-obra do campo. A agricultura decaiu, causando grande instabilidade social e política. A estratégia adotada pela metrópole para a economia angolana baseava-se na exportação de matérias-primas produzidas na colônia, incluindo borracha e marfim, além dos impostos cobrados à população nativa. As disputas territoriais pelas terras africanas envolviam países econômica e militarmente mais fortes como a França, Inglaterra e Alemanha, o que constituía motivo de grande preocupação para Portugal que começou então a ver a urgência de um domínio mais eficaz do terreno conquistado. Por isso, reformou a sua política colonial no sentido de uma ocupação efetiva dos territórios. A partilha do continente viria a acontecer algum tempo mais tarde, na conferência de Berlim. Os territórios sob domínio português, Angola e Benguela, foram fundidos, recebendo estatuto de Província.
A partir da década de 1950 apareceram os primeiros movimentos nacionalistas que reivindicavam a independência de Angola. Houve conflitos armados nos quais se destacaram o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) fundado em 1956, a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) fundada em 1961 e a UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola), fundada em 1966. Depois de longos confrontos, o país alcançou a independência em 11 de novembro de 1975.
Capítulo II – O candomblé de Angola
A grande maioria dos cerca de 12.000.000 de habitantes que constituem a população Angolana, provém dos povos de origem Bantu.
Existe ainda uma minoria de não-bantus que são os Bosquimanos ou Bochimanes.
Há 3 mil anos ou talvez 4 mil anos atrás, os bantus deixaram a selva equatorial ( na região hoje ocupada pelos Camarões e Nigéria) rumaram em dois movimentos distintos, para o sul e para o leste, empreendendo assim a maior migração jamais realizada em África. Por causas desconhecidas esta corrente migratória prolongou-se até ao século XIX.
Caminhando sempre em direção ao sul estes, jovens povos, vigorosos, armados e organizados venceram e escravizaram os indefesos pigmeus e Bosquimanos.
A designação Bantu nunca se refere a uma unidade racial. A sua formação e expansão migratória originaram uma enorme variedade de cruzamentos. Há aproximadamente 500 povos Bantu. Assim não se pode falar de raça Bantu, mas de povos Bantu, isto é, comunidades culturais com civilização comum e línguas aparentadas.
Depois de tantos séculos em quese realizaram muitas deslocações, cruzamentos, guerras, e foram tão diversas as influências recebidas os grupos Bantu conservam ainda as raízes de um tronco originário comum.
O termo BANTU aplica-se a uma civilização que conserva a sua unidade e foi desenvolvida por povos de raça negra. O radical ''ntu'' comum em muitas línguas Bantu significa, pois, homens, seres humanos.
Os Bantu além do nítido parentesco linguístico conservam um fundo de crenças, ritos e costumes similares, uma cultura com traços específicos e idênticos que os assemelha e agrupa independentemente da identidade racial.
Os Bantus Angolanos repartem-se por nove grandes grupos etnolisnguísticos: Quicongo, Quimbundo, Lunda-Quioco, Mbundo, Ganguela, Nhaneca-Humbe, Ambó, Herero, e Xindonga: que por sua vez se subdividem em cerca de uma centena de subgrupos tradicionalmente designados por tribos.
Capítulo III – Tumba Junsara
O Tumba Junsara foi fundado em 1919 em Acupe, na Rua Campo Grande, Santo Amaro da Purificação, Bahia, por dois irmãos de esteira cujos nomes eram: Manoel Rodrigues do Nascimento (dijina: Kambambe) e Manoel Ciriaco de Jesus (dijina: Ludyamungongo), ambos iniciados em 13 de junho de 1910 por Maria Genoveva do Bonfim, mais conhecida como Maria Nenem (Mam'etu Tuenda UnZambi, sua dijina), que era Mam'etu Riá N'Kisi do Terreiro Tumbensi, casa de Angola mais antiga da Bahia. Kambambe e Ludyamungongo tiveram Sinhá Badá como mãe-pequena e Tio Joaquim como pai-pequeno.
O Tumba Junçara foi transferido para Pitanga, no mesmo município, e depois para o Beiru. Após algum tempo, foi novamente transferido, para a Ladeira do Pepino nº 70, e finalmente para Ladeira da Vila América, nº 2, Travessa nº 30, Avenida Vasco da Gama (que hoje se chama Vila Colombina) nº 30 - Vasco da Gama, Salvador, Bahia.
Na época da fundação, os dois irmãos de esteira receberam de Sinhá Maria Nenem os cargos de Tata Kimbanda Kambambe e Tata Ludyamungongo. Manoel Ciriaco de Jesus fez muitas lideranças de várias casas, como Emiliana do Terreiro do Bogum, Mãe Menininha do Gantois, Ilê Babá Agboulá (Amoreiras), onde obteve cargos. Tata Nlundi ia Mungongo teve como seu primeiro filho de santo (rianga) Ricardino, cuja dijina era Angorense.
No primeiro barco (recolhimento) de Tata Nlundi ia Mungongo, foram iniciados 06 azenza (plural de muzenza). Em sendo o seu primeiro barco, ele chamou o pessoal do Bogum para ajudar. Os 03 primeiros azenza do barco foram iniciados segundo os fundamentos do Bogun: Angorense (Mukisi Hongolo), Nanansi (Mukisi Nzumba) e Jijau (Mukisi Kavungu), os 03 outros azenza foram iniciados segundo os fundamentos do Tumba Junçara.
No Rio de Janeiro, fundou, com o Sr. Deoclecio (dijina: Luemim), uma casa de culto em Vilar dos Teles (não se sabe a data da fundação nem a relação de pessoas iniciadas). Dentre as pessoas iniciadas, ainda existe, na Rua do Carmo, 34, Vilar dos Teles, uma delas, Tata Talagy, Kawaeje em Brasilia-DF-, Katendewe e Vulaiô em BHte.MG e outros, filhos de Sr. Deoclecio
Com a morte de Manoel Rodrigues do Nascimento (Kambambe), que assumira sozinho a direção do Tumba Junçara, Manoel Ciriaco de Jesus (Ludyamungongo) assumiu a direção até sua morte, a qual ocorreu em 4 de dezembro de 1965.
Com a morte de Manoel Ciriaco de Jesus (Ludyamungongo), assumiu a direção do Tumba Junçara a Sra. Maria José de Jesus (Deré Lubidí), que foi responsável pelo ritual denominado Ntambi de Ciriaco, juntamente com o sr. Narciso Oliveira (Tata Senzala) e o sr. Nilton Marofá.
Deré Lubidí era Mam'etu Riá N'Kisi do Ntumbensara, hoje situado à Rua Alto do Genipapeiro - Plataforma, Salvador, Bahia, e de responsabilidade do sr. Antonio Messias (Kajaungongo).
Em 13 de dezembro de 1965, após o ritual de Ntambi, Maria José de Jesus (Deré Lubidí) passa a direção do Ntumbensara para Benedito Duarte (Tata Nzambangô) e Gregório da Cruz (Tata Lemboracimbe), e em ato secreto é empossada Mam'etu Riá N'Kisi do Tumba Junçara.
Maria José de Jesus (Deré Lubidí), em 1924 recebeu o cargo de Kota Kamukenge do Tumba Junçara, e em 1932, o cargo de Mam'etu Riá N'Kisi. Em 1953 fundou o Ntumbensara, na Rua José Pititinga nº 10 - Cosme de Farias, Salvador, Bahia, que em 18 de outubro de 1964 foi transferido para o Alto do Genipapeiro.
Com o falecimento de Deré Lubidí, assumiu a direção do Tumba Junçara a Sra. Iraildes Maria da Cunha (Mesoeji), nascida aos 26 de junho de 1953 e iniciada em 15 de novembro de 1953, permanecendo no cargo até o presente momento.
Esta é uma síntese do histórico do Tumba Junçara, com agradecimento especial a Esmeraldo Emeterio de Santana Filho, "Tata Zingue Lunbondo", pelo referente histórico, e também a "Tata Quandiamdembu", Esmeraldo Emetério de Santana, o Sr. Benzinho, pois sem sua colaboração não poderíamos ter chegado a tais fatos.
Capítulo IV – Bate Folha
No ano de 1881, Salvador, Bahia, nasceu Manoel Bernardino da Paixão. Quando já contava 38 anos de idade, Bernardino foi iniciado na Nação do Congo pelo Muxikongo (designação dos naturais do Kongo), por Manoel Nkosi, sacerdote iniciado na África, recebendo então, a dijína de Ampumandezu.
Depois da morte de Manoel Nkosi, Bernardino transferiu-se para a casa de sua amiga inseparável Maria Genoveva do Bonfim - Mam´etu Tuhenda Nzambi, mais conhecida como Maria Nenem, mãe do Angola na Bahia, onde tirou a Maku-a-Mvumbi (Mão do Morto).
Maria Nenem era filha de santo de Roberto Barros Reis, escravo angolano, de propriedade da família Barros Reis, que lhe emprestou o nome pelo qual era conhecido.
A cerimônia de Maku-a-Mvumbi, à qual Bernardino se submeteu em 13 de junho de 1910, coincidiu com a iniciação de Manoel Ciriáco de Jesus, nascido em 8 de agosto de 1892, também na Bahia, o que ocasionou a ligação estabelecida entre Bernardino e Ciriáco que, anos mais tarde, com o falecimento de seu irmão de santo mais velho, Manoel Kambambi, que na época tinha casa aberta na Bahia, Ciriáco sucedeu kambambi, no terreiro que hoje é conhecido por Tumba Junsara.
Com o passar do tempo, Bernardino já muito famoso, fundou o Candomblé Bate-Folha, situado na Mata Escura do Retiro, em Salvador, Bahia. O terreno onde está estabelecido o Candomblé, na Travessa de São Jorge, 65, é cercado de árvores centenárias e considerado o maior terreiro do Brasil que, na época, foi presenteado à Bamburusema, seu segundo mukixi, já que o primeiro era Lemba.
Desta forma fica claro que, pelas origens de Manoel Nkosi, o Bate-Folha é Congo e, mantém o Angola, por parte de Maria Nenem.
Foi no dia 4 de dezembro de 1929 que Bernardino tirou seu primeiro barco, cujo Rianga (1º Filho da casa) foi João Correia de Mello, que também era de Lemba.
Capítulo V – Dijina
É uma palavra de origem bantu que significa nome ou apelido no idioma Kimbundu. É notório, que somente nos Candomblés de tradição Angola e Kongo que os neófitos recebem outro nome, a Dijina, após o término dos rituais de iniciação, onde passará a ser conhecido em toda comunidade espiritual pela sua Dijina Muzenza (Nome do noviço), que é diferenciado da Dijina Jinkice (Nome secreto da Divindade), nome dito pela divindade no dia de sua saída, para o público presente na casa. Este ritual assemelha-se ao Orunkó Òrísà, nos candomblés de Ketú e ao Hunyi Vodun, nos Candomblés de Djeje.
O nome, como parte constitutiva, completa a pessoa, pois explica a natureza própria do ser individual, mostra a sua realidade e descobre a sua interioridade. É um distintivo, segue a alma espiritual como a sombra segue a alma sensitiva.
Encerra alguma coisa da essência pessoal, até identificar o nome a ser dito. Faz parte da personalidade, revela o ser da pessoa. O nome situa o homem no grupo, é a denominação que permite reconhecê-lo, o sinal da sua atividade, das suas relações com as outras.
Dar nome a uma coisa, a uma pessoa ou conhecer seu nome secreto, equivale a descobrir a natureza. O conhecido fica de alguma forma em poder, ou pelos menos sujeito a possíveis ações mágicas do conhecedor. Entre ele e o objeto ou a pessoa assim conhecidos, brota reação vital que propicia a interação. O conhecimento fica desamparado e vulnerável no seu ser. Como a palavra é poderosa e inseparável do pronunciado, quem sabe pronunciar o verdadeiro nome de um ser, influencia-o e domina-o, atua sobre a sua realidade profunda, por isso se esconde o nome real.
Por isso os Bantus podem ter vários nomes, mas algum fica escondido, não permitindo que ninguém descubra, salvo os companheiros de iniciação ou de sociedade secretas. Toda transformação da personalidade exige uma nova forma de ser chamado. Com o antigo nome desaparece a personalidade abandona.
Capítulo VI – Jinkices
Aluvaiá, Pambu Njila – Intermediário entre os seres humanos e outros Jinkices;
Jinkoci, Roxi Mukumbe – Senhor das estradas de terras. Mukumbe, Biolê, Buré são nomes atribuídos a este Jinkice;
Ngunzu – Engloba as energias dos caçadores de animais, pastores, criadores de gado e daqueles que vivem embrenhados nas profundezas da mata, dominando as partes onde o Sol não penetra;
Kabila – O caçador pastor. Aquele que cuida dos rebanhos da floresta;
Mutalambô, Lambaranguange – Caçador, que vive em florestas e montanhas, Jinkice de comida abundante;
Gongobira ou Gongobila – Jovem caçador e pescador;
Mutakalambô – Tem domínio das partes mais profundas e densas das florestas, onde o Sol não alcança o solo por não penetrar pela copa das árvores;
Loango – É o próprio raio;
Kaviungo ou Kavungo, Kafungê, Kikongo Kafundeji – Jinkice da varíola, das doenças de pele, da saúde, da vida e da morte;
Nsumbu – Senhor da Terra, também chamado de Intoto pelo povo Yorubá;
Hongolo (Homem) Hongoloméia (Mulher) - Jinkice representado pela cobra, senhor do equilíbrio humano.
Kindembu – Rei de Angola. Senhor do tempo e das estações. Representado nas casas de Angola por um mastro com uma bandeira branca, chamada de bandeira de Tempo.
Kaiango, Matamba, Nunvurucemavula – Senhor do fogo, guerreira que comanda dos mortos;
Bambulucema – Senhora das Ilhas;
Kisimbi – A grande mãe, dona dos lagos e rios;
Ndandalunda – Senhora da fertilidade e da Lua;
Kaitumba, Mikaia, Kokueto – Senhora das águas salgadas;
Nzumbarandá – Dona do jardim dos mortos, responsável pela reencarnação;
Nvunji – Senhor da justiça, representa a felicidade de juventude e toma conta dos filhos recolhidos no Manzô;
Lembá Dilê, Lembarenganga, Jakatamba, Nkasuté Lembá, Gangaiobanda – Senhor do mundo e da criação.
Capítulo VII – Muxaká
Kueto, kueto Oto bona gira pra zuela di koro kossi, si sika mkoko di Nzambi di endeli. Tata ? Gira ê
Tata Ludiá Mungongo, Tata Kingongo, Tata Noulake, Tata Oyá, Tatga Onãla. Oto bona gira pra zuela lele. Tata ? Main Kaiango kaeté. Fan Nzambi. Oto bona gira pra zuela di koro kosi, si sika mkoko di Nzambi di endeli. Tatá ?
Makotá ? Makotá Massóroró. Ora kun ganga. Ora kun nora. Ira kun funda. Ora kun Nzambi Apungu marains katu mandara. Oto bona gira pra zuela di koro kosi, si sika mkoko di Nzambi di endeli. Tatá ?
Gira ê
Muxaká di tambam ngunzo, ngunzu, burá burá unce kunce, unguá tuiu asan buká. A koxe, makoxe, samba kalunga, ano di maraê, o kase dium o abata o Mungo azekere, èdí kuandu eu abata sanji atu àlá.
Kumareto koro, kumareto koro
Kumareto koro, kumareto koro
Maiongo imburo dilonga maneputi, maneputi é a zanga da terá da kaiá, gole nu ganga samba jinjin dendérengo, dendérengo. Dura nun samba maneputi, maneputi é a zanza da terá da laia, gole nu nganga samba jinji. Dilonga, dilongar inhambote kongo lá kuetu. Uá kueti lulu izanga, o izanga, grugrumin bronkó, bronkó, Mané rumbo zerulu, um Loango máfilo kajangue aê zua bombo zela zerulu. Dá Dijina taka taka, lenga lenga, kuebda dila.
Taka langa oya maiwê
Taka langa oya kukurá vunji
Maiwè taka langa rá ngongo.
Huntó Douglas D' Odé
